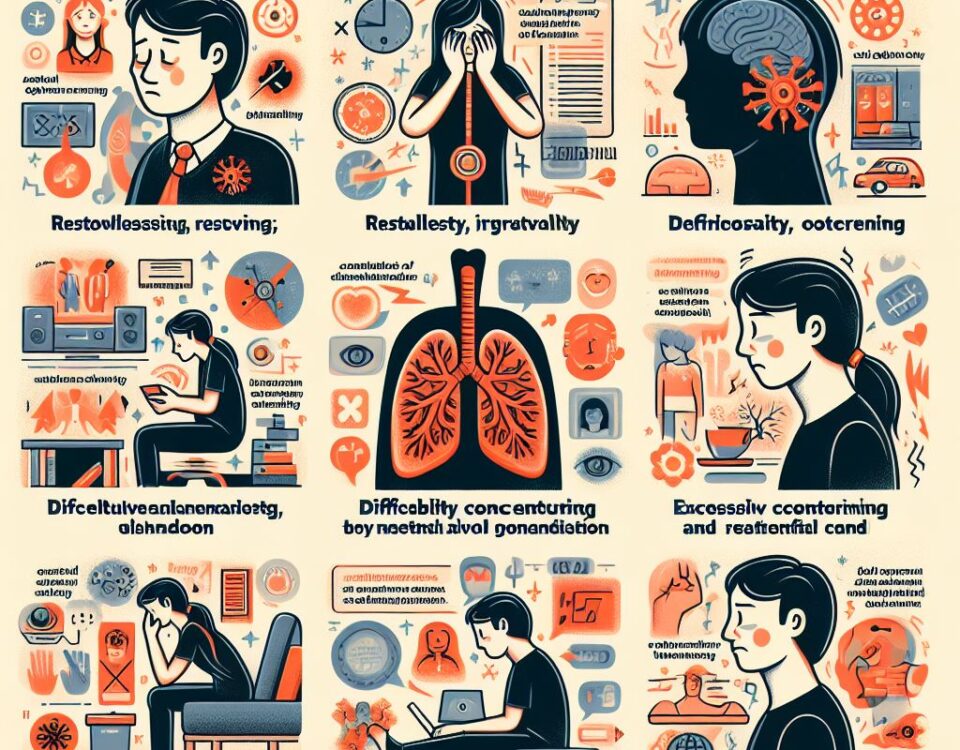Carl Gustav Jung e a Psicologia Analítica
8 de novembro de 2017APROPRIAÇÃO DE ESPAÇO NO HOSPITAL: ASPECTOS QUALITATIVOS VIVENCIADOS NA INTERNAÇÃO

APROPRIAÇÃO DE ESPAÇO NO HOSPITAL: ASPECTOS QUALITATIVOS VIVENCIADOS NA INTERNAÇÃO[1]
Maria Cherubina de Lima Alves[2]
Marlise Aparecida Bassani[3]
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar as contribuições do estudo da apropriação de espaço no hospital, visando discriminar estilos qualitativos de inter-relação pessoa-hospital em função do significado que cada pessoa atribui a este ambiente. A apropriação de espaço foi estudada com base nos componentes de ação-transformação e identificação simbólica, ou seja, pelos comportamentos e aspectos cognitivos, afetivos e de identidade envolvidos no processo de construção do significado do espaço. Foram investigados 29 sujeitos, sendo 14 homens e 15 mulheres, com idade de 15 a 75 anos, durante a sua internação na Neurologia, na Neurocirurgia, na Clínica Médica e Clínica Cirúrgica em um hospital público. Foram utilizados os seguintes métodos: documentos (prontuários médicos), redes semânticas naturais, entrevistas semi-estruturadas com sujeitos e com a equipe de enfermagem, observações (direta e registros fotográficos) e desenhos. Foram cumpridos todos os compromissos éticos do pesquisador previstos na Resolução CNS 196/96. Os resultados foram organizados em função de categorias temáticas a partir das redes semânticas naturais, identificando-se três estilos de apropriação de espaço: a) paralisação X caridade: atitudes passivas e introvertidas, visão do hospital como uma instituição de caridade que irá acabar com a dor e com o sofrimento através da morte ou de um milagre; b) passividade X instabilidade: pouca ou nenhuma ação efetiva no ambiente hospitalar, atitude passiva diante das condições hospitalares, apesar de os sujeitos relatarem insatisfação com elas; hospital visto como um lugar instável e imprevisível, podendo ser ruim (causar medo e morte) ou bom (promover a cura); c) participação X possibilidade: interação com o ambiente hospitalar, preocupação com recuperação e bem-estar durante a internação (sujeitos percebidos como exigentes pela enfermagem); o hospital é vivenciado como um local para a recuperação e a internação é um período transitório para voltar à vida normal.
Palavras-chave: apropriação de espaço, psicologia hospitalar, redes semânticas naturais, psicologia ambiental.
O objetivo deste estudo é analisar as contribuições do estudo da apropriação de espaço no hospital, visando discriminar estilos qualitativos de inter-relação pessoa-hospital dados em função do significado que cada pessoa atribui a este ambiente, a partir de uma leitura analítico-junguiana.
A fim de realizar a análise das inter-relações de uma pessoa com um ambiente externo a ela, no caso o hospital, é necessário entender como ela percebe e é influenciada por este ambiente e como ela se coloca e influencia o hospital.
Jung (1991) ressalta que o homem vê no mundo externo aquilo que tem relação com o que ele tem dentro de si (seus arquétipos). Desta forma, a percepção está relacionada com a história de vida da pessoa, bem como com a sua personalidade, crenças, comportamentos, valores, relacionamentos familiares e sociais e com material inconsciente.
A percepção, no enfoque da relação pessoa-hospital, deve ser entendida conforme as definições da Psicologia Ambiental, considerando-se ser esta a área da Psicologia que estuda as inter-relações pessoa-ambiente físico, seja ele construído ou natural (BASSANI, 2004). A Psicologia Ambiental incorporou e adaptou grandes temas de interesse da Psicologia para o estudo dos problemas ambientais, tais como a percepção ambiental e enfoca fenômenos próprios em seu desenvolvimento, como a apropriação de espaço.
A percepção ambiental é a forma pela qual as informações disponíveis são captadas, usando os órgãos dos sentidos (GIFFORD, 2002). A percepção ambiental enfatiza a captação de informações em larga escala, simultaneamente, abrangendo a consideração de um amplo sistema de variáveis envolvidas na cena, incluindo o observador, que inevitavelmente faz parte da cena que observa, interferindo e sofrendo a interferência desta cena (BASSANI; FERRAZ; SILVEIRA, 2004; GIFFORD, 2002).
A percepção ambiental está envolvida no processo de apropriação de espaço, conceito fundamental neste estudo. Entende-se a apropriação de espaço (place appropriation) conforme o modelo circular dual proposto por Pol (2002).
Pol (2002), estudando as manifestações do place appropriation, propõe que este conceito não seja visto como sinônimo de apego ao lugar (place attachment), mas sim como um processo complexo, cíclico, pessoal e simbólico, cujas dimensões podem ser representadas nos componentes de ação-transformação e de identificação simbólica.
A ação-transformação é um componente de base comportamental que consiste na ação transformadora de interação entre o meio, a pessoa e a coletividade, pela qual um transforma o outro, adquirindo significados individuais e sociais. Pol (2002) destaca que é deixada uma marca desta modificação no espaço, porém esta marca frequentemente é abstrata e não concreta. Depois de se apropriar do espaço via interação com o meio-ambiente, há uma tendência das pessoas (ou da coletividade) de se identificarem com a significação criada, acontecendo então a identificação simbólica. De acordo com Bomfim (2003), este componente envolve as dimensões afetivas, cognitivas e interativas.
A identificação simbólica é definida por Pol (2002) como o componente que torna o espaço apropriado um fator de continuidade e de estabilidade do Self, dado que o ambiente se torna um fator de estabilidade da identidade e da coesão do grupo. Moser (2002) já assinalava que a identidade também pode expressar-se pela dimensão físico-espacial, ressaltando que os territórios apropriados individualmente podem possibilitar a predição da ordem e da estabilidade, uma vez que permitem a personalização e regulação de acessos (ou invasões) pelo outro.
De acordo com Bomfim (2003), o modo de apropriação de espaço depende da cultura, dos papéis sociais e das formas e estilos de vida, abrangendo os processos cognitivos, afetivos, simbólicos e estéticos. Cabe ressaltar ainda que a apropriação de espaço é constantemente re-elaborada, uma vez que é um processo dinâmico e cíclico, e, portanto deve-se considerar o caráter de temporalidade deste processo.
Pol (1997) desenvolveu os conceitos de simbolismo a priori e simbolismo a posteriori para se referir às situações nas quais os profissionais procuram dar intencionalmente a um espaço uma significação pré-estabelecida e quando envolvem o usuário no planejamento contínuo e gradual do espaço.
O simbolismo a priori, segundo Pol (1997), existe sempre que algum organismo da estrutura social promove a criação ou a modificação de um ambiente ou de um objeto com uma intenção específica, visando algum tipo de controle. O simbolismo a posteriori refere-se às situações em que os significados dos objetos e dos lugares surgem no decorrer do tempo de interação e de uso dos indivíduos e dos grupos, sendo que os próprios indivíduos ou grupos conferem seu significado.
Nos ambientes privados prevalece o simbolismo a posteriori e o processo de apropriação de espaço inicia-se geralmente com a ação-transformação, seguido depois da identificação simbólica.
Em ambientes nos quais prevalece o simbolismo a priori, como é o caso dos hospitais e da maioria dos espaços públicos, a apropriação de espaço inicia-se pela identificação simbólica. Nestes casos, as pessoas chegam a se identificar com os ambientes públicos, porém não se apropriam deles a ponto de se envolverem em intervenções para mudá-las, adaptá-las, melhorá-las.
Bomfim (2003) ressalta que o fato dos locais públicos serem planejados nesta lógica do simbolismo a priori pode explicar a falta de envolvimento das pessoas com suas cidades, pois geralmente não se observam intervenções dos moradores para melhorar suas condições de modo geral.
O estudo da apropriação de espaço neste trabalho não investiga o apego aos ambientes hospitalares, mas sim a capacidade dos pacientes interagirem (ou não) com estes ambientes (componente de ação-transformação) e o significado de estar internado (componente de identificação simbólica), já que o ambiente hospitalar pode afetar o humor, o nível de estresse e o bem-estar de pacientes e seus familiares (WHITEHOUSE et al, 2001).
Takito (1985) contextualiza que o hospital seria um espaço terapêutico para abrigar o homem que busca reencontrar seu equilíbrio, considerando que o doente vive uma situação de tensão em que sua capacidade de se adaptar às condições ambientais está afetada e reduzida. Ainda assim há uma imposição de rotinas e normas hospitalares que restringem a possibilidade de controle do paciente.
Ambientes públicos de atendimento à saúde são, em geral, planejados levando em consideração os aspectos arquiteturais e de engenharia relacionados às funções que um hospital tem de oferecer tratamento, certos tipos de procedimentos, cuidados com infecções, ente outros (TAKITO, 1985). Contudo, como assinala Moser (2002), as dimensões emocionais e sociais do paciente não costumam ser contempladas nestes projetos.
Clemesha (2003) assinala que um projeto arquitetônico hospitalar deve oferecer suporte à recuperação da saúde, considerando tanto as necessidades de seus funcionários como as dos pacientes.
Método
Este trabalho é um estudo descritivo e exploratório, uma vez que o processo de apropriação de espaço ainda não foi estudado nos ambientes hospitalares. Assim, foram utilizados os seguintes métodos: consulta a documentos (prontuários médicos), Redes Semânticas Naturais, entrevistas semi-estruturadas com sujeitos e com a equipe de enfermagem, observações (direta e registros fotográficos) e desenhos.
As entrevistas semi-estruturadas, as observações e a consulta a documentos são formas diretas de acesso aos conteúdos subjetivos – conscientes e inconscientes – dos sujeitos. De acordo com Penna (2003) a apreensão do fenômeno psíquico na Psicologia Analítica acontece por meio da observação, pois ela permite captar dados da consciência e o material inconsciente que apresenta à consciência.
Para acessar os conteúdos inconscientes dos sujeitos investigados nesta pesquisa foram utilizados dois métodos: o desenho e as Redes Semânticas Naturais. A escolha das Redes Semânticas Naturais como instrumento principal da pesquisa é justificada como uma tentativa de acessar os significados das transações pessoa-ambiente hospitalar (VALDEZ, 1998), pois remete à existência de uma organização semântica da memória de longo prazo, de acordo com a qual as vivências são armazenadas em forma de “redes” ou conglomerados semânticos, ou seja, conteúdos com significados afins são agrupados em categorias. Os desenhos, por sua vez, são considerados técnicas expressivas para objetivar os conteúdos de maneira plástica, tendo a potencialidade de acessar o inconsciente e de ativar a imaginação (JUNG, 2002).
Um estudo descritivo exploratório requer uma preocupação em obter a maior quantidade de informações qualitativamente diferentes, visando abranger a complexidade e a amplitude das possibilidades de manifestações do processo de apropriação do espaço hospitalar. Assim, optou-se por um estudo qualitativo.
Neder (1993) ressalta que o objetivo da pesquisa qualitativa é compreender o fenômeno que se expressa situacionalmente, estudando-o nas suas qualidades essenciais, nas especificidades e peculiaridades.
Foram investigados 29 sujeitos, sendo 14 homens e 15 mulheres, com idade de 15 a 75 anos, durante a sua internação na Neurologia, na Neurocirurgia, na Clínica Médica e Clínica Cirúrgica em um hospital público. A coleta foi feita nos quartos hospitalares em que os sujeitos estavam internados.
Os resultados obtidos foram trabalhados em função de categorias temáticas levantadas a partir do instrumento das Redes Semânticas Naturais, capazes de organizar todas as informações coletadas. Com as categorias temáticas estabelecidas, procurou-se dar um tratamento estatístico aos resultados visando verificar se os sujeitos se agrupavam em função dos conteúdos temáticos que tinham levantado. Optou-se, então, por utilizar o método estatístico de análise fatorial de correspondências múltiplas, calculado através do programa SPAD (Version 3.5), o que possibilitou uma análise da classificação hierárquica das respostas em função das categorias temáticas citadas. Assim, foram agrupados os sujeitos com respostas altamente correlacionadas, chegando-se aos agrupamentos (ou clusters) que identificaram três estilos de apropriação de espaço em função da ocorrência de semelhanças temáticas em suas respostas.
Discussão dos resultados
Conforme o tratamento quali-quantitativo dos dados, chegou-se a três estilos de apropriação do espaço hospitalar. Os três estilos são:
- Paralisação X Caridade: pacientes completamente passivos e introvertidos, esperando pela intervenção divina em sua vida. O hospital é visto como uma instituição de caridade que irá acabar com a dor e com o sofrimento pela morte ou por um milagre.
- Passividade X Instabilidade: pacientes com pouca ou nenhuma ação efetiva no ambiente hospitalar, apresentando atitudes passivas diante das condições hospitalares, apesar de não estarem satisfeitos com elas. Hospital é visto como um lugar instável e imprevisível, podendo ser ruim, e causar medo, ou bom e promover a cura. As pessoas aqui agrupadas dão importância aos aspectos constitutivos do ambiente físico.
- Participação X Possibilidade: pacientes que interagem com o ambiente hospitalar, vendo-se vinculados com a própria recuperação e bem-estar durante a internação. São tidos pelos funcionários como exigentes demais e “chatos”. O hospital é visto como um caminho para a recuperação e o período de internação é um momento transitório para voltar à vida cotidiana.
Os nomes dados aos “estilos” de apropriação de espaço referem-se, respectivamente, aos componentes de ação-transformação e identificação simbólica.
O significado que o hospital tem para os sujeitos aponta um conflito entre duas polaridades: lugar de sofrimento e morte X lugar de restabelecimento e cura. A maioria dos sujeitos destacou o primeiro aspecto desta polaridade, citando de forma esporádica a tênue esperança que depositam nestes ambientes.
O conteúdo conflituoso da identificação simbólica atribuído aos hospitais pode estar relacionado tanto com seu simbolismo a priori quanto com as crenças culturais. Segundo Pol (1997), a maioria dos ambientes públicos é projetada independentemente dos seus usuários, sendo impostos a eles por um simbolismo a priori. A apropriação de espaço, nestes casos, inicia-se pela identificação simbólica, sendo que as pessoas chegam a se identificar com os ambientes públicos, porém não se apropriam deles a ponto de se envolver em intervenções para mudá-los, adaptá-los e melhorá-los segundo suas necessidades e desejos.
Podemos pensar que um ambiente apresentado a priori para seus usuários não deixa espaço para que estes imprimam mudanças e adaptações. Porém, nos casos de ambientes de assistência à saúde, a falta de adaptação ao ambiente – possivelmente provocada por características físicas, rotinas e normas hospitalares – pode gerar estresse e prejudicar a recuperação dos pacientes.
Quanto aos aspectos culturais, Lindheim, Glaser e Coffin (1972) apontam que a imagem do hospital até no começo do século passado era de uma casa de caridade para os necessitados e pobres, um lugar para morrer. Parece que este significado ainda vale para a maioria dos sujeitos, expressos principalmente nos dois estilos de apropriação de espaço que não englobam eficazmente o componente de ação-transformação.
O conflito entre afastar-se e aproximar-se do hospital pode estar relacionado à confusão entre ambiente público e privado, pois se percebe a presença de atitudes de introversão, de sentimentos e experiências subjetivas, de intimidade e sinais de regressão, que são mais comuns em ambientes privados do que em ambientes públicos. Clemesha (2003) assinala que a pessoa doente tem menos energia disponível para se adaptar aos ambientes, o que pode levá-la a ficar mais apática e reparar menos nos incômodos e indignidades presentes no ambiente hospitalar.
Uma atitude passiva diante da doença não seria algo construído e reforçado pela forma com que o sistema de saúde do país se configurou? Existe um conflito básico instaurado na relação dos sujeitos com os ambientes de atendimento à saúde. Um sistema público de saúde centralizador e autoritário, que chama os doentes de pacientes, colocando-os desde o começo num lugar de passividade e conformismo, e que compactua com a idéia de que a população recebe atendimento não como um direito, mas como um favor desfavorece ou até impede formas saudáveis de apropriação de espaço. Esta realidade sócio-cultural coloca o doente num impasse: como viver o componente de ação-transformação, como participar e ser alguém neste sistema?
Segundo Moser (2002), quanto mais forte for a inter-relação pessoa-ambiente, mais este ambiente corresponderá às necessidades do indivíduo. Constatando que a apropriação de espaço se dá apenas parcialmente: será que o hospital está atendendo às necessidades de seus usuários?
Ainda foi verificado no estudo que os sujeitos preferiram ficar em grupo durante sua internação, mesmo que lhes fosse dada alternativa de escolha, o que era esperado segundo a literatura brasileira da área (BELLATO; CARVALHO, 2002). Pode ser que “querer companhia” esteja relacionado à necessidade de reformulação constante do sentido da vivência hospitalar, ou seja, do significado da internação. Observou-se que os sujeitos “torciam” e “sofriam” uns pelos outros, apresentando uma forte ligação empática que levava, muitas vezes, a opiniões e posturas semelhantes entre os companheiros de quarto durante a internação. Este “vínculo” com os outros pacientes leva à outra questão: a apropriação de espaço em ambientes transitórios e públicos, sobre os quais as pessoas têm pouca possibilidade de controle, pode se dar através dos vínculos pessoais estabelecidos? Não é difícil observar que os indivíduos que estão organizados em grupos se sentem melhor nos mais variados lugares que estiverem. Considerando-se, mais uma vez, a restrição imposta pelo próprio sistema de saúde, seria esta uma alternativa de ação-transformação, ainda que limitada?
Conclusões
De acordo com Moser (2002) os modos com que as pessoas se relacionam com o ambiente são aspectos que contribuem para o bem-estar do indivíduo. Para este autor, o bem-estar depende de uma ancoragem territorial – equivalente à ação-transformação – e dos processos de identidade – equivalentes à identificação simbólica.
O estilo de apropriação de espaço que incorpora mais ativamente o componente de ação-transformação (Participação X Possibilidade) parece ser mais eficiente para os pacientes, no que diz respeito à satisfação com a internação e a uma mais rápida recuperação ou alta hospitalar. Estar disposto a agir e transformar o ambiente hospitalar para que ele melhore e passe a atender às necessidades físicas e psicológicas dos pacientes pode ser uma forma de promover mais bem-estar entre os pacientes, maior engajamento com o processo de restabelecimento da saúde. Esta questão pode mais explorada em futuras pesquisas, pois mudando o comportamento e a atitude que as pessoas têm no hospital, mudar-se-ia também o significado que estes ambientes têm para elas e, conseqüentemente, a qualidade da internação.
Segundo Moser (2002), a apropriação de espaço leva pessoas a cuidarem mais do ambiente e agir de forma a preservá-lo. Assim, explorar o desenvolvimento da ação-transformação e promover uma apropriação de espaço mais equilibrada e positiva para os pacientes e familiares também pode favorecer a preservação e o cuidado hospitalar.
Se os ambientes são capazes de indicar processos inconscientes, refletir nosso Self e indicar o processo de individuação, como assinala Ammann (2002), então o ambiente hospitalar estudado na pesquisa pode ser considerado como um ambiente que espelha o inconsciente dos pacientes internados. Parece ser um espelhamento de questões conflituosas de medo e esperança, de morte e vida, mesmo que sejam ambientes que os sujeitos são obrigados a freqüentar por falta de recursos.
Os componentes de identificação simbólica e ação-transformação incluem aspectos psíquicos conscientes e inconscientes. A identificação simbólica indica a pela capacidade do ambiente ‘espelhar’, ou seja, refletir o Self. Desta forma, a apropriação de espaço revelou-se um conceito eficaz, dentro da Psicologia Analítica, para se analisar a inter-relação pessoa-hospital, uma vez que indica componentes que precisam ser ressignificados para que se possa chegar a internações com mais qualidade.
Segundo Capra (1990) ter saúde é estar em sincronia consigo mesmo – física e psiquicamente – e com o mundo externo. Assim, só com a harmonia da relação pessoa-ambiente pode-se realmente falar em ambientes terapêuticos que auxiliam num restabelecimento global da saúde.
Os estilos de apropriação de espaço sugeridos devem servir apenas como norteadores de um leque gigantesco de possibilidades. Não foi objetivo chegar a “tipos de apropriação de espaço” definitivos e rígidos, mas a pontos fundamentais que diferenciam a forma de cada um se ligar aos hospitais e interferem na internação, no intuito de servir como parâmetros para se pensar sobre o planejamento hospitalar e sobre o treinamento dos funcionários.
REFERÊNCIAS
AMMANN, Ruth. Inner space and outer space: a discussion of man’s living spaces. Junguiana, São Paulo, n. 20, p. 35-41, 2002.
BASSANI, Marlise A. Psicologia ambiental: contribuições para a educação ambiental. In: HAMMES, Valéria S. (org). Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável: Proposta metodológica de macroeducação. Vol. 2. São Paulo; Brasília: Globo; Embrapa, 2004.
BASSANI, Marlise A.; FERRAZ, José M. G; SILVEIRA, Miguel A. Percepção Ambiental e Agroecologia: Considerações Metodológicas em Psicologia Ambiental. In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, V SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE AGROECOLOGIA E VI SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AGROECOLOGIA, 2004, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre, 2004.
BELLATO, Roseney; CARVALHO, Emília C. O Compartilhar espaço / tempo entre pessoas doentes hospitalizadas. Revista Latino-Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, v.10, n. 2, p. 151-156, mar./abr., 2002.
BOMFIM, Zulmira A.C. Cidade e afetividade: estima e construção dos mapas afetivos de Barcelona e de São Paulo. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. Originalmente apresentada como tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Tradução Álvaro Cabral. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 1990.
CLEMESHA, Maria R. A nova imagem do hospital, subsídios e diretrizes para o projeto arquitetônico. São Paulo: USP, 2003. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
FERREIRA, Marcos R. Produção e conhecimento sobre degradação ambiental: uma incursão na Psicologia Ambiental. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1997. Originalmente apresentada como tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
GIFFORD, Robert. Environmental Psychology. Principles and practice. 3. ed. Boston: Optimal Books, 2002.
JUNG, Carl G. Memórias, Sonhos e Reflexões. Tradução Dora Ferreira da Silva. 22. imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
_______. A Dinâmica do Inconsciente. O.C. v.8. Petrópolis: Vozes, 1991.
LINDHEIM, Roslyn; GLASER, Helen H.; COFFIN, Christie. Changing hospital environments for children. Cambridge, 1972.
MOSER, Gabriel. La psicología ambiental: del análisis a la intervención dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. In: GUEVARA, Javier; MERCADO, Serafin. (Orgs.). Temas selectos de Psicologia Ambiental. México: UNAM, Greco, Fundación Unilibre, 2002. p. 235-261.
NEDER, Mathilde. O Psicólogo e a Pesquisa Psicológica na Instituição Hospitalar. Revista de Psicologia Hospitalar, n. 2, p. 2-4, jul./dez. 1993.
PENNA, Eloísa M. D. Um estudo sobre o método de investigação da psique na obra de C.G. Jung. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
POL, Enric. El modelo dual de la apropiación del espacio. In: MIRA, Ricardo G.; CAMESELLE, José M. S.; MARTÍNEZ, José R. (Eds.). Psicología y Medio Ambiente: Aspectos psicosociales, educativos y metodológicos. A Coruña: Unidad de Investigación Persona-Ambiente, Universidad de A Curuña, Universidad de Santiago de Compostela, 2002.
______. Symbolism a priori-Symbolism a posteriori. In: REMESAR, A. (Ed.). Urban regeneration. A challenge for Public Art. Monografies Psico/Socio/Ambientals. Barcelona, n. 6., p. 71-76,1997.
SPAD. Programa for Windows. Versão 3.5, 1998. (CD-ROM).
TAKITO, Clarinda. Como o paciente internado percebe o ambiente que lhe é oferecido pelo hospital. Revista Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 263-280, 1985.
VALDEZ, Medina J.L. Las redes semánticas naturales, usos y aplicaciones em Psicología Social. Toluca, México: Universidad Autônoma del Estado de México, 1998.
WHITEHOUSE, Sandra; VARNI, James W.; SEID, Michael; COOPER-MARCUS, Clare; ENSBERG, Mary J.; JACOBS, Jenifer R.; MEHLENBECK, Robyn S. Evaluating a children`s hospital garden environment: utilization and consumer satisfaction. Journal of Environmental Psychology, n. 21, p. 301-314, 2001.
[1] Pesquisa financiada pela CAPES.
[2] Docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela UNESP Franca sob a orientação do Prof. Dr. Pe. Mário José Filho.
[3] Professora titular do Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Clínica e do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.